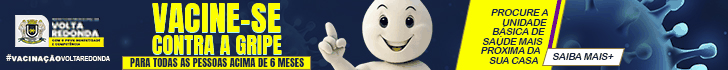Por Adelson Vidal Alves
Em maio desse ano, o presidente Jair Bolsonaro declarou que “o racismo no Brasil é uma coisa rara”. Tal pensamento não se restringe ao presidente, e está diretamente ligado ao mito da democracia racial, isto é, a ideia de que no Brasil as “raças” viveriam em perfeita harmonia. A Unesco, em 1950, chegou a patrocinar uma série de pesquisas no país, esse visto como “laboratório racial”, onde a problemática do racismo teria sido amenizada. Mas, afinal, é verdade que vivemos em uma democracia racial? É correto afirmar que no Brasil o racismo é mais brando?
De fato, as teorias racistas não foram necessárias na justificativa da escravidão, onde o estatuto da posse de almas era suficiente para garantir a manutenção da ordem escravocrata. O “racismo científico” só foi chamado ao uso na perspectiva real de abolição do cativeiro. As teorias raciais chegaram aqui com o diplomata francês Arthur de Gobineau, amigo de Dom Pedro II, e fez discípulos como o médico Raimundo Nina Rodrigues.
Duas visões raciais aqui permaneceram, obviamente adaptadas à nossa realidade. Em uma delas firmava-se a certeza de que há raças que são “incivilizáveis”, e outra admitia-se desigualdades evolutivas que poderiam ser corrigidas com o tempo. Em 1844, o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) promoveu um concurso que premiaria o melhor projeto que atendesse a pergunta: “Como escrever a história do Brasil?”. O vencedor foi o naturalista alemão Karl Friedrich Von Martius.
Em seu trabalho, Martius propôs o futuro do país dentro do aperfeiçoamento das três raças que compunham a nação brasileira: brancos, índios e negros. No enredo do seu trabalho, a metáfora dos três rios (raças) desiguais, onde o rio mais limpo absorveria os outros, num processo de purificação que culminaria na prevalência do rio (raça) representante da civilização, ou seja, a prevalência do branco civilizado sobre os negros que atrapalhavam o desenvolvimento nacional.
Um fato importante, no entanto, trouxe visão diferenciada do povo brasileiro, a publicação em 1933 de “Casa Grande e Senzala”, obra prima do sociólogo Gilberto Freyre. O brilhante escritor pernambucano inaugurou uma visão de interpretação da mestiçagem, vista dentro do aspecto cultural.
Homem de seu tempo, Freyre acreditava na existência de raças biológicas, mas jamais se propôs a estabelecer hierarquias entre elas. Chegou, é verdade, a interpretar o índio como inferior tecnicamente aos negros, sendo os nativos “meros coletores”.
Sua visão foi criticada por Darcy Ribeiro, para quem os indígenas desenvolveram técnicas de cultivo de plantas superior à dos negros. Pouco importa. O que interessa é que o clássico de Freyre redireciona a interpretação intelectual sobre a história do Brasil.
Retornando à questão da democracia racial, é preciso entender de onde teria nascido o termo, atribuído ao próprio Gilberto Freyre. Tal termo não aparece uma única vez em “Casa Grande e Senzala”, e teve pouquíssima relevância conceitual em sua obra. Quando mencionado, foi usado como ideal ou comparação com países onde o racismo era bem mais violento e aberto que o do Brasil.
Contra Freyre, pesou a acusação de que em seu livro teria amenizado a violência da escravidão no nosso país. Ao contrário, escreve Freyre: “A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e de família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil”.
O racismo no Brasil é uma realidade indiscutível, e acontece no ambiente privado, de forma velada. As expressões públicas do racismo são condenadas na forma de lei e recebem condenação firme da opinião pública. Inexistem no país grupos racistas organizados a nível nacional, desfilando nas avenidas. O racismo brasileiro é íntimo, mas não menos perverso e prejudicial.
A constatação de que a democracia racial é uma farsa nos desautoriza minimizar a problemática racista, no entanto, somos convidados a compreender a particularidade da realidade brasileira e a necessidade de se usar ferramentas adequadas para combater o preconceito racial.
*Adelson Vidal Alves é historiador